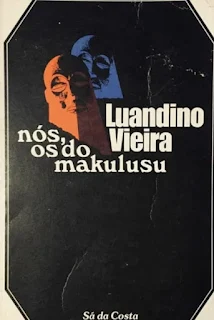ISAQUIEL CORI
O escritor Luandino Vieira foi alvo, em Novembro de 2014, de várias
homenagens, que culminaram com o colóquio “De Luuanda (1964) a
Luandino (2014): Veredas”, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em
2015 publicou, pela Editorial Caminho "Papéis da Prisão:
apontamentos, diário, correspondência (1962-1971)", que ele considerou uma
súmula dos doze anos que passou confinado pelo regime colonial português no
Campo Prisional do Tarrafal, em Cabo Verde. Tudo isso, e uma detalhadíssima
infografia sobre a sua obra publicada no Rede Angola, trouxe à tona da minha
memória o papel determinante que o Luandino Vieira teve na auto-assumpção da
minha condição de escritor. Efectivamente em 1990, salvo lapso de memória,
encontrei-o na Ler & Escrever, uma pequena livraria e editora que
funcionava ao lado do Hotel Globo, em Luanda. Dei-lhe a ler o manuscrito do
romance "Sacudidos pelo Vento", que ele elogiou rasgadamente, mas
pedindo que o reescrevesse. Assim o fiz e levei-o ao concurso Sonangol de
Literatura de 1994, onde obteve Menção Honrosa. Muito mais tarde, em 2004, do
lugar recôndito de Portugal para onde se retirara, recebi um postal seu, onde
dizia: "Mão amiga fez-me chegar o teu livro e vejo que ganhaste asas para
voar e fazer coisas para o engrandecimento da nossa terra". Referia-se ao
meu livro de contos "O Último Feiticeiro".
Em 2006 Luandino Vieira ganha o Prémio Camões mas
recusa-se a recebê-lo. Nesse mesmo ano vem a Luanda e fiz tudo para o encontrar
e o entrevistar, numa altura em que estava ligado à preparação da primeira
edição dos Cadernos ÉME, do Secretariado do Bureau Político do MPLA para
Informação, sob direcção editorial executiva do jornalista Fernando Tati. O
encontro e a entrevista consumaram-se em Novembro de 2006, em casa do escritor
Arnaldo Santos, num ambiente descontraído. A entrevista alargou-se a Arnaldo
Santos, um velho compadre de Luandino Vieira, e rendeu umas três horas de
gravação, com temas centrados na vida e obra de LV mas também de Arnaldo
Santos. Transcrevi às pressas as falas do LV, com a intenção de mais tarde
fazer o mesmo com as do Arnaldo Santos. Infelizmente, viria a perder o registo
magnético da entrevista numa mudança de casa. Até hoje essa lembrança dói-me.
Comecei a ler Luandino Vieira na adolescência. Livros
como "A Vida Verdadeira de Domingos Xavier", "Luuanda",
"João Vêncio. Os seus Amores", "Lourentinho, Dona Antónia de
Sousa Neto & Eu", li-os fechado no meu quarto, no Kassequel, ainda
rapaz imberbe, muitas vezes à noite, à luz do candeeiro a petróleo. Eram livros
do meu irmão mais velho, Borges António Cristóvão, de grata e saudosa memória.
A entrevista ao mestre Luandino Vieira, publicada originariamente nos Cadernos
ÉME, em 2006, está também algures neste blogue, com o título "Alguém
passeia em mim". Abaixo, decidi retomar o título da primeira publicação,
além de caprichar mais na edição.
Luandino Vieira (n. 1935) é considerado pela crítica como um dos mais
importantes ficcionistas angolanos, do espaço de língua portuguesa, e não só.
Ausente do país desde 1992, “por razões pessoais e familiares”, regressou a
Angola para o lançamento do seu mais recente romance, “O Livro dos Rios” –
primeiro título da trilogia “De Rios Velhos e Guerrilheiros”. Na entrevista que
segue, presenciada e participada pelo seu amigo e colega Arnaldo Santos,
Luandino Vieira fala não só da sua obra literária mas também da sua
participação na luta anti-colonial (chegou a passar 12
anos confinado ao centro prisional do Tarrafal de Santiago, em
Cabo Verde). “Nós tivémos a sorte histórica de poder participar num momento
absolutamente ímpar da nossa história, que foi a luta de libertação nacional,
que deu lugar à independência política”, diz. E cita Mendes de Carvalho: “O
MPLA é um rio de muitas águas”.

PERGUNTA – Depois de catorze anos de ausência de Luanda, como é que vê a
evolução da cidade de Luanda?
LUANDINO VIEIRA – Nota-se, obviamente, que se passaram catorze anos entre aquilo que
eu deixei e aquilo que eu encontro. Acho que a cidade está em frenesim.
Eu não posso dizer que seja um movimento desusado, mas para mim é um
movimento surpreendente. Posso estar também a confundir, porque só dei duas ou
três voltas na cidade, praticamente no centro histórico, na Baixa, na Marginal.
PERGUNTA – Já esteve no Kinaxixi?
LV – Ainda não fui ao Kinaxixi. Tenho isso programado. Quero ir a Viana
porque falando com amigos que moram já fora do centro, soube que Luanda está a
chegar, calmamente, às margens do Kwanza. Isso dá uma ideia da expansão nesses
últimos anos. Encontrei uma cidade que, estranhamente, eu pensava que ia ser
mais diferente. E depois dei-me conta que afinal é a minha cidade. Fisicamente,
olhando, a gente nota que houve muitas mudanças. Há prédios que não havia, nos
sítios que não havia.
Mas o que permanece é muito mais forte, em termos de identidade do
território e do espaço, do que as marcas visíveis do que se está a fazer agora
em termos de desenvolvimento da cidade: as novas soluções para o trânsito, as
novas soluções urbanísticas…
Portanto, é um sentimento ainda um bocado difícil para mim ao fim de uma
semana. Vejo que é diferente mas ao mesmo tempo é igual. É como quando a gente
mete a chave na porta, entra em casa e reconhece que está em casa mas algumas
coisas foram mexidas. Agora… é um movimento e penso que não foi só um acréscimo
de movimento, ou o que se chama de crescimento, vamos mesmo dizer talvez, de
desenvolvimento. Mas imagino que tenha sido um aumento enorme de problemas de
gestão do território, de controlo do território… Não é tarefa fácil para ninguém
gerir este espaço de Luanda, um espaço carregado de valor simbólico que vem de
muitos séculos. O que é Luanda? Há uma parte de Luanda que já é mítica,
simbólica.
PERGUNTA – O próprio Luandino Vieira, com os seus livros, contribuiu para
um certo paradigma mítico de Luanda.
LV – Os escritores funcionam tanto no plano da realidade como no plano dos
sonhos. Às vezes confundem as duas coisas, felizmente, para projectar alguns
sonhos. Essa cidade que nós, eu e o Arnaldo Santos, pusemos nas nossas obras,
por exemplo aí a área do Maculusso e do Kinaxixi, o tempo é que vai dizer se
eram valores simbólicos que tinham a sua verdade real ou que têm a sua vigência
para a definição da identidade da cidade. Para a nossa geração e para a geração
seguinte e pelo facto dos livros terem sido publicados… isso tem uma certa
premência. Esse espaço foi que nos inventou a nós. Enquanto crianças ele
definiu uma parte da nossa identidade. O que fizemos foi talvez passar isso
para a letra escrita, para a literatura e tentar transmitir sonho, que afinal,
se calhar, não se adequava à realidade.
PERGUNTA – É certo que essa visão, esse sonho, se quisermos, foi adoptado
por gerações posteriores. Há quem não viveu nos musseques de Luanda naquele
tempo (antes da independência) e a ideia que tem dos musseques é a que é
descrita nos livros do Luandino e de outros escritores da sua geração.
LV – Por isso tenho o cuidado de dizer que nem sempre transmitimos o real;
transmitimos às vezes o que sonhámos que era e o sonho do que deveria ser.
Portanto, os jovens devem fazer essa leitura com a devida cautela. A literatuta
tanto se alimenta do que é real como do que é fictício, da sua própria ficção,
do sonho dos escritores. Olhando para trás, não há que renegar esse traço,
essas notas que estão no meu trabalho literário. Continua a haver esse passado
do modo como o escrevi há muitos anos.
PERGUNTA – O Luandino está cá em Angola já para ficar?
LV – Ainda não estou para ficar porque estive fora estes anos todos por
motivos rigorosamente familiares e particulares e que não têm nada a ver com
outra coisa que não seja isso. Como deve calcular, nós acumulámos muita coisa.
Sobretudo os escritores acumulam papéis à mais, memórias à mais... Esta
oportunidade de vir foi ditada por compromissos de lançar os livros ao mesmo
tempo, eu e o meu compadre Arnaldo Santos; Kinaxixi e Makulusu... E, claro,
para aproveitar a ocasião para ver como é que devo arrumar, o que é que devo
arrumar para trazer. Se não podemos escolher o sítio onde nascemos podemos
escolher, ao menos algumas vezes, o sítio aonde queremos morrer.
PERGUNTA – Acaba de dizer que esteve fora de Angola estes anos todos por
razões estrictamente familiares e particulares. Será então escusado
perguntar-lhe das circunstâncias que o levaram a sair de Angola em 1992?
LV – Em 1992, quando recomeçou a guerra civil, naqueles termos, eu já não
tinha nenhum cargo, nenhum compromisso; e foi-me dada uma bolsa para criação
literária, de dois anos. Recebi a bolsa e fui para Portugal para pesquisar e
para tentar escrever. Não consegui escrever naquele tempo e entretanto
comprometi-me com a minha mãe a ficar com ela até aos seus últimos dias. E foi
o que sucedeu.
PERGUNTA – Constou-me que chegou a rasgar (ou a queimar) um romance que já
tinha pronto.
LV – Eu ainda trabalho à moda antiga. Não tenho computador e escrevo à mão.
Não sei guardar arquivos e, portanto, só a minha memória é o meu arquivo.
Depois de escrever achei que o melhor era queimar; às vezes é melhor começar
tudo de novo do que tentar emendar. Às vezes o pano onde a gente quer pôr o
remendo já não aguenta o remendo.
PERGUNTA – Tem dito repetidamente, quando perguntado, que negou o Prémio
Camões por razões pessoais e íntimas. Será descabido supôr que essa negação
terá também alguma coisa a ver com o escândalo que resultou da atribuição, em
1965, do "Grande Prémio de Novelística" da Sociedade Portuguesa de
Autores, com a intervenção das autoridades fascistas, que dissolveram aquela
sociedade?
LV – Não tem nenhuma relação com os prémios anteriores, nem com o modo como
existe o Prémio Camões.
PERGUNTA – A sua recusa não significa então uma negação do Prémio Camões
enquanto instituição?
LV – O Prémio Camões é uma boa instituição. Eu não conheço em pormenores os
regulamentos e a filosofia do prémio mas sei que é um prémio para os escritores
que enaltecem ou desenvolvem a língua portuguesa, para escritores de todos os
países que utilizam a língua portuguesa. Neguei-o por razões pessoais e
íntimas. A última vez que escrevi e publiquei, não quer dizer que seja a última
vez que escrevi, foi em 1972. De 1972 a 2006 quantos anos se
passaram? Se se meditar um pouco sobre isso, os leitores actualizados da
literatura, os que lêem e vão seguindo o movimento editorial, os que conhecem
outros escritores, outras obras dos antigos escritores, novas obras dos novos
escritores, o surgimento de novos talentos, de novas correntes literárias,
haveriam por exemplo de perguntar (não quero dizer que seja essa a razão, mas
eu se fosse leitor perguntava) como é que não sendo o prémio de carreira,
porquê que atribuem um prémio a um escritor que está morto? O Prémio Camões não
é um prémio póstumo. E um escritor que fica tanto tempo sem publicar... Poucas
pessoas sabiam que eu estava vivo, mesmo fisicamente. Estou convencido que
muita gente dizia: “Ele deve ter morrido, nunca mais o vimos, nunca mais o
ouvimos”. Isto é apenas um exemplo.
As minhas razões foram rigorosamente íntimas e pessoais. Não têm nada a ver
com a instituição do prémio, nem como o prémio é atribuído ou não atribuído.
Têm a ver com o modo como eu vejo a minha situação de escritor dentro do
sistema literário em língua portuguesa, o meu papel e o meu lugar nesse sistema
literário.
ARNALDO SANTOS – Contra a vontade do entrevistador eu atrevo-me a dizer que não há
escritores mortos como o Luandino estava aqui a defender. Porque os escritores,
como Agostinho Neto, Viriato Cruz, etc., que até fisicamente estão mortos,
continuam muito vivos. É um argumento que eu tenho contra o meu compadre.
LV – Até podemos entrar em polémica. A polémica seria sobre se
aquilo que se chama um escritor e que é definido por um nome se refere à pessoa
ou às obras. É evidente que essas obras foram produzidas por alguém. Mas no
trabalho literário o próprio escritor, depois, às vezes pergunta “quem é que em
mim escreveu isto?”
PERGUNTA – Defende uma perspectiva mística do acto de escrever?
LV – Não é mística, porque sucede. A gente escreve e mais tarde lê e diz
assim, “mas eu escrevi isto? Fui eu? Alguém em mim escreveu isto?”
PERGUNTA – Ou: “Terei sido possuído por...”
LV – Não, não é isso. Penso que não é a possessão, nesse sentido. Mas a
nossa identidade pessoal é uma coisa muito complexa e é feita de muitos dados.
O nosso ADN literário, digamos assim, inclui tudo quanto a gente leu e tudo
quanto a gente sonhou e quanto a gente ouviu. Nenhum de nós sabe o que é que
está arquivado aqui nessas pastas do nosso cérebro. E muitas vezes nós não
temos a mínima percepção de que isto estava lá guardado e damo-nos conta de que
estava porque apareceu na escrita. O Arnaldo está aqui e sabe que se começamos
um texto da maneira errada, isto é, se conduzir é com o volante à esquerda e a
gente começa a conduzir com o volante à direita, temos que parar e mudar de
trânsito. Isto é, rasgar e começar de novo; por aquele caminho não vamos lá.
Quem é que nos diz que por aquele caminho não vamos lá?
A nossa identidade literária determina muitas vezes muitos textos dos quais
não tínhamos sequer a percepção de que existia essa capacidade em nós.
Ou essa incapacidade, quando falhamos: “porquê que falhei se tinha tudo
tão bem pensado na minha cabeça?”
PERGUNTA – Dirijo-me ao Arnaldo Santos. Concorda com o Luandino?
AS – Você já notou que nós não temos as mesmas ideias sobre este assunto.
Porque eu não considerava, de forma nenhuma, o Luandino um escritor morto. E
mais ainda: eu tinha boas razões para admitir que o júri, que era formado por
gente, à partida, inteligente, sabedora, etc., quando pegou na obra dele, não
estava por estas considerações, com as quais eu concordo plenamente, para
avaliar a obra do escritor Luandino Vieira, para lhe atribuir o Prémio Camões.
O júri foi mesmo buscar essa obra, independentemente do autor se ter arquivado
lá no convento de Sampaio.
Eu não considerava de forma nenhuma o Luandino um escritor morto. Eu sabia
que o escritor continuava vivo, movia-se ou vivia como escritor, portava-se
como escritor, eu convivia com ele como escritor, falava e inclusivamente
mandava os meus textos a ele como escritor. Logo, o escritor estava aí. Ele só
precisava era sacudir aquela preguiça que normalmente os escritores costumam
passar. Ele sacudiu e temos aí um escritor vivo para mais livros, muitos mais
livros.
PERGUNTA – Luandino: é verdade que durante os anos todos em que ficou sem
publicar fez como que uma longa viagem interior e vivia como um eremita? Fez um
auto-exílio, na tentativa de, se calhar, recuperar motivação para a
escrita?
LV – Não, não foi na tentativa de recuperar motivação para a escrita. Ao
longo destes anos fui sempre escrevendo. Pelo menos guardando na minha memória
temas e mesmo frases e palavras. Passei a meditar sobre a literatura, sobre o
meu trabalho anterior, sobre a realidade que tinha dado origem ao meu trabalho
anterior, sobre a minha participação modesta nessa realidade e sobre os elementos
fundamentais dessa realidade; portanto, era uma meditação mais sobre a minha
identidade.
De modo que ao longo destes anos todos o isolamento físico ajudou... O
isolamento físico é devido também ao meu modo de estar no mundo. Não sou pessoa
de muita confusão. Mas isso permitiu-me ver uma parte do meu relacionamento com
a nossa realidade que eu não tinha aprofundado muito mas que em todos os livros
já estava.
Eu voltei ao Domingos Xavier [“A Vida Verdadeira de Domingos Xavier”, 1974]
e obviamente o aspecto militante do livro... li e segui o aspecto humano dos
personagens, sendo personagens que foram criados sobre figuras que eu conheci e
passaram aqueles dramas... Por exemplo, num capítulo, um dos personagens, já
não me lembro quem, olha para o rio Kwanza... eu me dei conta de que logo ali,
num romance que não tinha nenhuma intenção de tocar na nossa natureza, que é
afinal o nosso grande aquário onde todos nós angolanos nos movemos, já estava
lá essa preocupação com a natureza, com o rio Kwanza. No Domingos Xavier já
estava lá o Kwanza!... E fui descobrir que aos oito/nove anos eu tinha feito
uma viagem pelo kwanza acima, num daqueles barcos que faziam cabotagem
para Calumbo... coisa que no meu subconsciente estava adormecida, tal e qual
como andei na escola ou ia, pela mão do meu pai, ao centro espírita, como ia
aos Coqueiros, ao Clube Atlético de Luanda... coisas que não tendo sido
valorizadas estavam na génese dos quadros em que se movia o meu trabalho
literário, a minha ficção literária. Isso fez-me compreender que a presença da
terra angolana (rios, montanhas, pássaros) – agora aqui com o meu compadre,
aqui na casa dele, a primeira coisa que a gente faz é identificar quem está a
cantar na mulembeira; aí um “dikole” farta-se de cantar, um “mbolo quinhentos”
canta, canta, canta; os “plim-plau” não saem daqui... – então isso fez-me
reflectir: ... “Afinal eu tenho reduzido a minha maneira de ver a
nossa realidade, porque a presença avassaladora da terra não tem sido
reflectida”.
Agora, isso que chamam exílio, auto-exílio, não existe. Eu já disse isto e
posso repetir: há uma certa tendência da comunicação social para emoldurar as
atitudes das pessoas. E então em relação aos escritores, aos artistas, aos
músicos, essa moldura passa também por alguns preconceitos. Vamos ser claros.
Ilustração de Luandino Vieira
PERGUNTA – O auto-exílio pode acontecer em qualquer lado, não implica
necessariamente uma viagem de um lado para o outro.
LV – Sim. E podia estar aqui muito mais exilado do que eu estava
lá, em Portugal. Eu nunca deixei de estar em Angola.
Devo fazer esta precisão: têm que nos dar, a nós também escritores e
artistas, a possibilidade, este privilégio de sermos também humanos e de
podermos ficar num sítio qualquer só porque procuramos trabalho, porque há o
emprego, porque gostamos de viver ali, porque a nossa família nos pede para
estar... O escritor, o músico, o artista, se não está é porque exilou-se,
auto-exilou-se... Exílio político? Não está de acordo? Não é nada disso. Eu
sinto necessidade de ir fazendo algumas introspecções porque até os combóios
que andam em duas linhas paralelas, em certa altura tem que ter agulheiros, tem
agulhas para desviar... Se queremos viver conscientemente temos que ir de vez
em quando, não digo permanentemente, ir aferindo a nossa própria actividade, a
ver se está de acordo com aquilo que nós somos e sentimos sinceramente ou se
nos estamos a desviar dessa nossa matriz que é a nossa força interior. Pode
soar a desculpa, mas não é.
PERGUNTA – “O Livro dos Rios” é assim a redescoberta do tema da Natureza...
LV – É a assumpção. Assumir inteiramente que do nosso real a Natureza tem
tanta força como a acção dos homens. Mais: porque os homens reflectem no seio
dessa Natureza. Só que nós, os humanos, somos muito vaidosos e não estamos
atentos. Passamos por uma árvore e é uma árvore... metemos a moto-serra e a
cortamos. Chegamos a um sítio qualquer e não vemos que sem este sítio nós não
teríamos a nossa identidade. Sobretudo nós, os urbanos, os citadinos.
Eu gosto de estar aqui, na casa do meu compadre, porque a mulembeira está
ali, e o sape-sapeiro... Hoje vamos tentar podar um pau de maçã da Índia que
está com uma doença, a ver se ainda a salvamos. Isto faz parte da nossa
identidade. E “O Livro dos Rios” e os outros dois que se seguem, tratam
fundamentalmente disto: a relação do homem angolano com a terra angolana,
naquilo que a terra define e ajuda a definir, naquilo em que o homem tem
consciência. Isso traz um grande orgulho. Penso que se alguma coisa de novo eu
pude introduzir nesse primeiro livro já não é só o orgulho de sermos angolanos,
de termos as conquistas que fizémos em 40 anos de luta... É também esse orgulho
da terra, dos rios... A angolanidade é um todo.
Ontem, falando com alguém que me estava a tentar dar umas indicações sobre
a questão dos diamantes no nosso país, quando é que aparecem referidos como
riqueza, ele me relatou um facto relativo ao século XVII. E falámos de Santa
Maria da Matamba, da igreja onde se passaram as exéquias de Njinga Mbande ou do
momento em que se lançou a primeira pedra dessa igreja... A palavra Matamba,
que desperta logo o nosso imaginário histórico, lá onde a Njinga ficou os
últimos anos da sua longa e combatente vida, desperta-nos também para aquela
região. E aí a gente caminha e vê Kalandula, caminha e vê o Lucala... e não
pode deixar de pensar nas Pedras de Pungu-a-Ndongo... Portanto, toda a história
angolana é a relação, também, dos homens angolanos com a sua terra e a sua
constante luta com as forças de conquista e ocupação. É também uma história de
lugares. E eu sou muito sensível a isso. Esse quadro da natureza passou a ser
muito mais importante do que, inconscientemente, já era...
E uma história como a da mafumeira do Kinaxixi, que nós vimos em criança,
presenciámos o derrube, o corte daquela árvore... a história do corte daquela
árvore pode ser vista do ponto vista simbólico, mitológico, religioso, no
quadro das religiões tradicionais, dos espíritos que aí moravam. E pode ser
vista como um choque entre a modernidade e o passado que não queria que se
mexesse ali... mas era preciso rasgar aquilo, asfaltar, criar a urbe,
avançar... o famoso progresso, não é, o crescimento ou o desenvolvimento. Tudo
pode ser narrado sem esse facto, sem a lagoa do Kinaxixi, sem a mafumeira, sem
os espíritos... mas acho que será um relato mais pobre do que se relatarmos com
todas aquelas nuances.
Mas sobre o Kinaxixi este senhor [referindo-se ao escritor Arnaldo Santos]
pode me corrigir, ele gosta de me corrigir, ele que também foi “apanhado” pela
mafumeira. Eu fui apanhado pelo galho da mafumeira, na chuva. Se era um sinal,
se não era um sinal, não sei.
PERGUNTA – No início desta conversa perguntei-lhe se podia tratá-lo por
“Camarada”...
LV – Com certeza.
PERGUNTA – Mesmo em Portugal, nesses últimos 14 anos, foi acompanhando a
evolução política do país? Ou reactualizou-se agora, no seu regresso?
LV – Eu acompanho sempre. Claro que não é no pormenor. A questão política
do nosso país já não se vê só nas questões de pormenor, nem nas questões
tácticas ou circunstanciais. Obviamente que estando longe, não podendo ver o
dia-a-dia, eu vou tendo conhecimento do que foram as opções estratégicas; e
também não tenho formação política nem conhecimentos para dizer se foram certas
ou erradas, naquele momento. Só posso ver é o resultado, como cidadão e como
“camarada”. Porque isto de ser do MPLA, primeiro não é o cartão. Primeiro é o
coração, depois é que é o cartão. O cartão a gente perde; rasgam-nos ou
caçumbulam-nos. Mas o coração, este, ninguém nos tira.
A questão estratégica deve ser medida por resultados. E quando, agora, no
dia 11 [de Novembro] eu fui posto perante o resultado... Se houvesse um só
resultado já era muito bom para uma geração.
Nós tivémos a sorte histórica de poder participar num momento absolutamente
ímpar da nossa história, que foi a luta de libertação nacional, que deu lugar à
independência política. A independência política está aí. Nunca esteve em
causa. Outra coisa: a integridade teritorial. Quando agora nós percebemos
que todos os planos, desde há muito anos, era que se para nos dominarem, se
fosse preciso, partiam-nos aos bocados...
Ninguém conseguiu partir a nossa Nação, o nosso território. Estão aí as
nossas fronteiras... E a despeito, e sobretudo devido a multiplicidade cultural
e sociológica do nosso país, a unidade nacional está aí. Ao fim de 31 anos de
independência, diga-me um outro país que se pode gabar desses três factos que
são estruturantes e estratégicos? Não são muitos.
Os quatro anos de paz traduzem-se neste vertiginoso crescer desta cidade. E
eu espero que quando visitar Benguela, Lubango, Cabinda e outros lugares,
encontre esse mesmo fervilhar. É certo que há muitos defeitos... Mas eu me
lembro dum mais velho que me ensinou, no campo de concentração, uma coisa:
quando passa um elefante, o caçador não pode estar a olhar para as pulgas.
Porque o elefante leva lama, leva pulgas, tem a pele rasgada, carrega
porcaria... você vai dizer “ai, o elefante está cheio de porcaria!”... Está a
passar um elefante e você está a olhar para as pulgas?
PERGUNTA – Foi propositado fazer coincidir o lançamento do seu livro com o
dia da Independência do país?
LV – Quando me perguntaram qual era a data que queria para o lançamento, eu
não pensei duas vezes. Se tivesse pensado teria percebido que no dia 11 há
coisas muito, muito mais importantes do que o lançamento de dois livros de dois
velhos escritores. Mas era uma parte daquele orgulho. E sobretudo porque eu
pedi apenas para que no lançamento estivessem meus restados camaradas do campo
de concentração do Tarrafal, a quem o livro é dedicado. Foi só o entusiasmo.
Depois a realidade obrigou a corrigir. [Inicialmente previsto para o dia 11 de
Novembro, o acto formal de lançamento acabou por acontecer no dia 14].
PERGUNTA - Recuemos no tempo. Pode falar-nos das circunstâncias que o
levaram ao campo de concentração do Tarrafal?
LV – Eu acho que isso individualmente não tem importância, porque nós
tivémos o privilégio histórico, a nossa geração, de estar naquele momento
histórico em que as condições se reuniram para que a luta pela libertação
nacional, pela independência política, tivesse sucesso.
PERGUNTA – A questão do mérito coloca-se porque apesar das condições
históricas, as pessoas tiveram que agir em determinado sentido...
LV – Pois, mas houve sempre resistência popular ao invasor, houve a partir
do momento em que começou a haver intelectualidade, a introdução da imprensa...
isso você sabe melhor do que eu. Houve vários surtos. O nacionalismo angolano
não começou no pós-segunda guerra mundial, tem raízes pelos séculos fora, isto
se não quisermos ver o nacionalismo duma maneira estreita, como uma ideologia.
Não. Esse sentimento, esse movimento que resultava do choque e das contradições
das forças, entre invasores e invadidos, ocupados e ocupantes, os que
colaboravam e os que não colaboravam, os reinos e os que vinham... isso foi
formando, foi caldeando o nosso país.
Então, nós tivémos o privilégio de estar naquele momento histórico e
participámos. Participações individuais? Foram sempre participações de grupos,
de tal maneira que, por exemplo em 1959 (para pôrmos a coisa já naquele período
em que a polícia política portuguesa, a PIDE, já estava instalada e começou a
actuar organizadamente sobre as ideias e os movimentos nacionalistas...) todos
os dias saíam panfletos e não eram assinados pela mesma organização. Uma pessoa
podia às vezes copiar a ideia que saía num panfleto, voltar a glosar esta
ideia, que já era assinada por outro dos movimentos que proliferavam: MINA,
MIA, ELA, PLUA, PCA... que sei eu?
Foi essa a época, da luta pela difusão das ideias nacionalistas, pela
organização e contra a repressão, que depois deu, como resultado, uma maior
eficácia e a possibilidade do MPLA dirigir essas forças todas que actuavam em
seu nome, com o seu programa (muitas vezes não lido, só de ouvido: sabia-se que
o programa mínimo era este, o programa maior era aquele...).
Para resumir, o camarada Mendes de Carvalho foi o que até hoje, como é o
nosso mais velho e o nosso mestre em muita coisa, em quase tudo, sintetizou
melhor o MPLA. Ele disse que o MPLA é um rio de muitas águas. Isso é o que faz
a força do MPLA. Nós tivémos a sorte de estar ou num ribeiro, ou num afluente
da margem esquerda ou num afluente da margem direita, às vezes estávamos só no
muije, outros estavam numa pequena lagoa... todas essas águas quando se
juntaram foram imparáveis. Hoje parece que isso é reconhecido.
PERGUNTA – O Luandino continua modesto. Na verdade ficou preso quantos
anos?
LV – Da primeira vez que fui preso, no Processo dos 50, tiraram-me porque
eu era muito miúdo e, (penso eu que o juiz interpretou, para o despacho de pronúncia
final, orientações superiores) não convinha misturar sobretudo os brancos que
tinham uma boa situação... como é que uma pessoa que é gerente de uma empresa,
tem dinheiro, tem privilégios... “se mete nisto?”, como eles diziam. Depois, em
1961, fui condenado a 14 anos e cumpri 12 em prisão; depois pegaram em mim e
puseram-me em Lisboa com residência vigiada. Tinha uma caderneta e cada vez que
queria me deslocar tinha de ir à PIDE, eles punham lá um carimbo... “segue para
Santarém”... Ia lá visitar o meu pai... quando lá chegava a primeira coisa a
fazer, antes de ver o meu pai, era me apresentar à PIDE para carimbarem a
caderneta... Só depois é que, vigiado obviamente, podia visitar a família.
Temos que render homenagem é à memória dos milhares e milhares de angolanos
que morreram, que deram o seu sangue, a sua vida, para a conquista da
independência política. Nós que passamos estes anos todos de cativeiro, temos o
direito a dizer isso com a modéstia e ao mesmo tempo o orgulho que temos nisso.
Mas o nosso sofrimento (pelo menos falo pessoalmente) comparado com o das
grandes massas... não, não tem comparação possível. Não é ser modesto... Trinta
e um anos depois a gente já pode ver qual é realmente o nosso lugar. É um
pequeno lugar, está ali, não é mais do que isso.
PERGUNTA – Escreveu “Nós, os do Makulusu” em 15 dias. Continua com este
ritmo frenético de escrita?
LV – Não. Em relação a “Nós, os do Makulusu” até hoje não compreendo... Eu
não sou uma pessoa muito mística, ao contrário aqui do meu compadre, que tem a
abertura de espírito suficiente para enquadrar desde o misticismo ao realismo
mais científico só comprovado por experiência... É verdade que o ambiente
cultural da nossa terra e o ambiente natural, também um bocado mágico, dá-nos
essa percepção de que nem tudo na realidade é perceptível apenas com os
instrumentos científicos, da razão. Há coisas que é melhor desconfiar.
Desconfiar é uma atitude correcta. Enquanto não tivermos a certeza,
desconfiámos. Alguém passeia em nós…
Nós atravessávamos no campo de concentração um período muito, muito
difícil. As notícias que nos chegavam... Não sei como é que nos chegou a
notícia da morte do Hoji-ya-Henda... e também d’alguns problemas que houve na
Checoslováquia... a morte do Che Guevara... Mas sobretudo internamente nós
passávamos um período de muito mais repressão, muitas limitações... E foi
também um período muito difícil para mim, pessoalmente, estive muitos meses sem
notícias da família... Então sucedeu que este livro [“Nós, os do Makulusu” ]
foi escrito em 7 dias.
Nós saíamos da caserna para dar umas voltas, para lavar a roupa, para
apanhar sol... o chamado recreio... Eu sentava-me no chão, debaixo de uma
grande acácia, no meio do campo, e fui escrevendo. O romance foi escrito assim,
como se eu estivesse, e agora vou arriscar mesmo, possuído por um espírito.
Alguém me diz que sim, que é assim, porque foi nessa mesma árvore onde o
Mendes de Carvalho gravou à canivete uma frase, que eu já não lembro e que
ficou lá. E ambos sofremos muito, anos depois, no dia em que visitámos de
novo aquele campo e vimos que uma moto-serra tinha cortado aquela árvore.
Outras árvores ficaram, mas aquela tinha sido cortada. Fazendo ficção, estou a
ler sinais que não existem. Mas a verdade é que estas coisas se passaram. Como
é que nós, por exemplo um mais velho como o Mendes de Carvalho ou eu que também
já vou a caminho de ser um kota, como é que nós vamos ler isso? Porquê que
cortaram precisamente aquela árvore? Ah, é o acaso... Outros dizem, ah, isso é
um milagre... Há muitas coisas na vida para as quais a curta vida humana, quer
individual quer às vezes grandes colectivos, ainda não pode encontrar resposta.
A resposta é mais estratégica, precisa às vezes de séculos. Ainda há pouco
tempo na Europa toda a gente defendia que a terra estava quieta e que o sol é
que girava à volta da terra. Hoje sabe-se, cientificamente, que é o contrário.
PERGUNTA – No quadro global da sua obra, qual é o livro que mais aprecia?
Incluindo “O Livro dos Rios”.
LV – É difícil dizer. Não é a velha e estafada imagem de que todos são
nossos filhos e que todo o pai ama a todos por igual. Todos eles, quando
os publiquei, publiquei conscientemente. Tenho a noção do que cada um deles
representa ou pode ter de valimento. Mas se me disserem assim: só podemos editar
um livro... Em homenagem a esse espírito que naquele momento deve ter habitado
em mim (e tenho pena que se tenha ido embora depois) eu escolheria mesmo o
“Nós, os do Makulusu”.
PERGUNTA – Acredito que tenha uma ideia geral daquilo que é a literatura
angolana hoje. O que acha dela?
LV – Nenhum de nós pode fazer futurologia. O hoje da literatura angolana
conheço mal, porque em Portugal não chegam algumas obras, pelos motivos que
todos sabemos. Conhecendo mal era muito atrevimento estar a fazer um balanço. A
única coisa que eu posso dizer, é tentando também ver as coisas em termos
estratégicos, fazendo a leitura do passado, tentando tirar ilações. E se no fim
do século XIX nos debruçássemos ou estivéssemos a ver a literatura que era
produzida naquele tempo, nomeadamente a que era publicada nos jornais, se se
pusesse essa questão aos homens do fim do século XIX e princípios do século XX,
àquela geração, será que eles poderiam por exemplo prever a geração dos Novos
Intelectuais de Angola, o movimento da Mensagem... seguramente que não.
Retrospectivamente, nós podemos agora encontrar uma ligação entre a literatura
feita em nome de ideias proto-nacionalistas, vamos utilizar o termo, e a que
depois apareceu já com ideias mais definidas, mais nacionalistas claras. Mas é lendo,
fazendo a leitura para trás. E quando o movimento da Mensagem produziu a
[revista] Mensagem ou quando o Mário [de Andrade] e o Francisco José Tenreiro
publicaram o Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa podia prever-se,
por exemplo, o que foi a actividade de 1975 a 1980, aquelas tiragens
de 15 mil, 25 mil exemplares, os livros a circularem a preço de maço de tabaco,
as FAPLA a distribuir livros quase com um carregador [de munições]... Podia-se
prever? Era muito difícil.
O que une isso tudo é que há uma linha de continuidade no modo como se vê a
relação do homem angolano com a terra e os seus deveres para com a realidade.
Em todos os escritos há uma linha de continuidade que pode ser simplesmente
reduzida a isto: no meu entendimento o escritor angolano sempre foi
comprometido civicamente. Teve sempre uma noção de que a sua arte é a
literatura, que é a expressão dum sistema um pouco autônomo, mas o cidadão
nunca fica de parte; há um mínimo de participação que resulta dessa consciência
cívica.
PERGUNTA – Essa participação cívica tem necessariamente uma expressão
política?
LV – Às vezes tem expressão política e até militar. Houve escritores que
foram para a guerrilha... A participação cívica, como cidadãos, ficou na
maneira como os escritores angolanos vêem a sua literatura. E penso que esse
traço também define o nosso sistema literário nacional. Há críticos que dizem
“ah, estes são poemas militantes”. Está bem. Muitas vezes a qualidade literária
é aferida por isso mas outras vezes é essa característica que dá a grande
qualidade literária. A gente pode dizer que o poema do António Jacinto, “O
grande desafio”, é um poema absolutamente político; é radicalmente político...
E é, em simultâneo, radicamente literário.
Estas coisas não são muito simples, nem se pode lançar o anátema de que
“ah, é militante, está a fazer poesia militante, logo, não presta”. Ou ao
contrário, “ah, não é militante, logo, é bom”. Em última instância a obra
publicada é que responde, não é o homem, sendo ou não militante. Agora, o homem
que faz a obra está lá na obra, quer seja como presença quer seja como
ausência. E o responsável último é ele.
PERGUNTA – Nós estamos num mundo cada vez mais globalizado. Como é que se
vê, a si e à sua obra, neste mundo globalizado?
LV – Eu vejo a globalização como esse grande movimento de aproximação das
actividades económicas em todo o mundo, o que, por arrasto, leva também a
aspectos sociais e culturais. Penso que me está a dirigir a pergunta no sentido
de eu, talvez, estabelecer a minha relação com as novas formas de informação e
comunicação.
Eu confesso que quando começou esse grande movimento, fiz uma má avaliação.
Não do alcance, porque se percebeu logo que essa revolução tecnológica ia
trazer uma nova revolução no modo de entender e de nos relacionarmos com o
mundo. Fiz uma má avaliação do tempo. Pensei para comigo, “bom, quando isso
chegar a ser um dado fundamental no relacionamento entre as pessoas e, no nosso
caso, no relacionamento das pessoas que vivem no campo da criação ou das ideias
ou da troca de ideias ou do conhecimento ou da informação... quando isso chegar
eu já cá não estou”. Pensava que levaria algum tempo mais, mas afinal sou
surpreendido, por exemplo em 2005, com essa realidade de ser um excluído, um
info-excluído.
PERGUNTA – Pode remediar isso...
LV – Pode ser remediado. As tecnologias são humanas e o modo de as
utilizar. Portanto, não é nada que qualquer cidadão, desde que queira, não
possa adquirir as competências mínimas para também meter o seu fiozinho na rede
e ficar ligado a todos os outros cidadãos, individual ou colectivamente. Disso
eu tenho a perfeita noção. Eu fiz uma avaliação do tempo e então fiquei
descansado com o meu método de trabalho da canetinha e apontamento e confiando
na minha memória. Agora dou-me conta que isso é insuficiente como modo de estar
ligado, de estar informado e de estar a participar tanto quanto mais não seja
tendo conhecimento do que se passa. Ainda não tomei a decisão de me “incluir”,
por preguiça. É que um infeliz traço do meu carácter é ser muito preguiçoso;
isso é capaz de dar muito trabalho.
PERGUNTA – Querendo ou não, a informação sobre o Luandino e a sua obra está
muito presente na Internet.
LV – O meu neto e o meu filho e outras pessoas ficam muito irritados quando
eu digo “printa e mete no correio”, quando afinal é só fazer um clique para
enviar ou reenviar [Risos].
PERGUNTA – Como é que tem sido a sua relação com as outras artes angolanas?
Essa fruição, essa apreciação das outras artes acrescenta alguma coisa à sua
criação literária?
Ilustração de Luandino Vieira
LV – Até 1992 eu tive uma relação muito intensa com as outras áreas da
criação artística. Eu era inclusive membro da UNAP [União Nacional
dos Artistas Plásticos]. Desde criança que eu gosto da boa música.
PERGUNTA – O que é que considera “boa música”?
LV – Bom... Música que é feita com algum conhecimento técnico e com
sinceridade. Por exemplo, oiço sempre com muita atenção a música tradicional, a
música popular, sobretudo o cancioneiro urbano. Com a pintura... sou um
desenhador e pintor frustrado. Houve uma altura em que na UNAP me
incluíram nos “pioneiros da gravura”... Fiz uns linóleos no tempo em que nos
multiplicávamos com muitos pseudónimos para ocupar o lugar nos jornais, para
dar a ideia de que éramos muitos, para a PIDE ficar baralhada... eu era o
Luandino, o José Muimbo, o Zé Graça... A gente ia multiplicando também as
expressões, para baralhar a polícia.
Sou apreciador, pouco crítico, de jazz. O Gegê Belo não gosta que eu diga
isto, mas eu gosto de todo o jazz, sobretudo dos priomórdios, do período da
formação, das influências, quando vêem as canções de trabalho mais os blues...
Mantive sempre ligações, por exemplo, com o Ole, o Kidá e os jovens que
estavam, em pintura, a estudar em Portugal, o Vitó (o filho do Viteix)... Pude
me dar conta de que para além da manutenção de uma linha que se vê em quase
todos, de expressão artística baseada não só em temas mas também em figurações
populares e uma coisa interessante que era uma certa expressão surrealista,
sobretudo em alguns pintores dos anos ’90, já não me lembro de nomes… acho que
se fez um bom caminho nas artes plásticas.
Na música houve uma multiplicidade de estilos e a entrada do conceito de
fusão e a tal globalização, que faz com que se façam descargas de tudo na Net e
se misture... Mas não há dúvida que a música sempre foi um sector de grande
vitalidade. Quanto ao teatro não tenho absolutamente nada a dizer, já que não
tenho acompanhado o seu movimento.
No cômputo geral, a actividade artística e criativa acompanha o
desenvolvimento do país. Umas vezes com uma certa perplexidade, à procura de
caminhos; outras já com a consciência de qual é o caminho da afirmação. Acho
que as artes também vão neste movimento de crescimento e de irrupção das forças
que estavam contidas pela guerra.