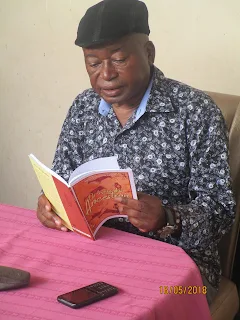F. Tchikondo,
pseudónimo literário de Francisco Queirós, o actual ministro da Justiça e
Direitos Humanos, acaba de lançar (22/12) o romance “O Império Kassitur na
Dinastia Sekele”, uma ficção no verdadeiro sentido da palavra, pois narra, em
grande parte, uma sociedade ainda inexistente e, que, convenhamos, mesmo que
não venha a existir poderia ter existido... O livro, que conta com um prefácio
assinado pelo romancista Boaventura Cardoso, tem a chancela editorial da União
dos Escritores Angolanos. O Jornal de
Angola foi ao encontro de F. Tchikondo e com ele teve a conversa que a
seguir se transcreve
Isaquiel
Cori
F. Tchikondo trata-se
de pseudónimo ou de heterónimo?
É
nome mesmo, da minha avó que se chamava Albertina Tchikondo. Uso o nome
Tchikondo não apenas para a homenagear, porque ela teve uma influência muito
grande na minha educação, mas também porque as autoridades coloniais
portuguesas não a registaram com esse nome. Aliás, nem registaram o meu pai
como filho dela, o que é muito estranho, são atitudes coloniais inexplicáveis.
O meu pai é filho de mãe incógnita. Então uma maneira de tornar o nome da minha
avó conhecido foi passar a usar o nome dela como meu pseudónimo literário.
Como é que o
romance “O Grande Império Kassitur na Dinastia Sekele” começou na sua cabeça?
Surge primeiro como uma história, com os personagens a ganharem contorno, ou
como uma tese?
Surge
de uma preocupação. Nós temos uma determinada realidade, económica sobretudo,
que tem as suas características próprias... Tem uma informalidade que me
preocupa, porque a forma como estamos a geri-la pode perpetuá-la em vez de a
combatermos. Fiz o mestrado em ciências jurídico-económicas e a minha tese, que
aliás está publicada, foi exactamente sobre economia informal. Isso trouxe-me
algumas preocupações, saber como será a economia daqui pra frente, como é que
Angola com estas características económicas se poderá transformar numa Angola
altamente desenvolvida economicamente, por um lado. Por outro, como é que as
pessoas que vivem neste ambiente económico conseguem desenvolver a sua
actividade empresarial e atingir níveis elevados de sucesso ao ponto de poderem
criar verdadeiros impérios económicos. Então imaginei a história de um angolano
normal, um cidadão que aos 9 anos fica órfão de pai e mãe, que morreram numa
mina. Ele e a irmã salvaram-se, ele fica praticamente abandonado no mundo, aqui
em Luanda torna-se menino de rua e passa pelas vicissitudes todas. A adolescência
dele também é muito caracterizada pela vida na rua, tal como a juventude. É na
juventude que ele começa a lutar para conseguir uma vida melhor. Entretanto tem
uma relação com a mulher, com quem tem uma filha. A sua preocupação passa a ser
dar uma boa vida à filha. Então começa a tentar ter sucesso económico...
... Não vamos
contar a história aos leitores potenciais, deixemos que leiam o livro. O
Império Kassitur é uma empresa, ou melhor, um grupo empresarial. Qual é o
objecto social da Kassitur?
É
um grupo empresarial de muito sucesso. O seu objecto principal é o turismo.
Kassinda Sekele fundou a empresa com base no nome dele e no objecto social. A
aglutinação de Kassinda e Turismo dá Kassitur. A empresa depois tem um sucesso
enorme na conjuntura em que ele viveu, de 1992 pra frente.
A narrativa,
pelo artifício adoptado pelo autor, é feita em 2170. Pressupõe-se que em Angola
se terá chegado a uma sociedade em que a democracia funciona sem partidos
políticos, substituídos por empresas. É este o sonho que o escritor tem para a
sociedade angolana daqui a 150 anos?
Não
diria um sonho. Talvez uma projecção da Angola que existirá dentro de 150 anos.
Aliás, há três perguntas a que tento dar resposta através desta narrativa. A
primeira é como será Angola daqui a 150 anos, a segunda é como chegaremos a
essa Angola e a terceira como as pessoas que viverão daqui a 150 anos olharão
para nós que vivemos agora. É um exercício que implicou usar a ficção
científica para explicar os avanços tecnológicos e científicos que acontecerão
necessariamente. Mas também foi necessário usar a imaginação para, partindo
dessa realidade, da tal economia muito informalizada, etc., como é que a
economia poderá tornar-se altamente desenvolvida, mas também como é que
evoluirão os outros aspectos sociológicos, como é que a vida será do ponto de
vista dos relacionamentos conjugais. Por exemplo, hoje já se nota uma tendência
para o abandono do modelo antigo; o modelo conjugal que temos agora já vem de
há séculos e vai sofrendo evoluções. Como será daqui a 150 anos? E do ponto de
vista cultural como é que as pessoas pensarão? Porque os modelos, as
referências, também evoluem, não são estáticas. Foi preciso fazer um exercício
de imaginação, partindo de uma dada realidade actual mas também do histórico
passado, e ver qual a linha de evolução que nos poderá conduzir a uma Angolade daqui
a 150 anos.
Sendo o autor
também membro do governo, portanto investido de altas funções políticas, e
sendo que escrever um romance implica devanear, “andar nas nuvens”, F.
Tchikondo fez uso de um interruptor mental que accionava enquanto ministro e
depois desligava quando passasse à condição de ficcionista?
Não
é difícil conciliar. Só é preciso ser organizado. No espaço das 24 horas do dia
dá para fazer muita coisa. E depois há o espaço da semana, do mês, do ano, a
vida... Dá para fazer política e aquilo de que se tem vocação, talento. E
também dá para ficar com a família e os amigos. Enfim, dá para muita coisa se a
pessoa for organizada. A literatura para mim aparece como um momento em que
tenho espaço livre na minha mente.
A razão da
pergunta é que tendo o seu romance uma componente de ficção científica o devanear
é maior do que se fosse um romance realista, o grau de abstracção é maior...
Este
romance não é só ficção científica. A parte sobre o desenvolvimento científico
e tecnológico é mesmo ficção científica e tive que me apoiar naqueles que
estudaram Física. Estudei um autor, Michio Kaku, americano de origem japonesa,
professor da Universidade de Nova Iorque. Li dois livros dele sobre Física.
Isso no quadro
da preparação para a escrita?
Sim.
Para fazer uma projecção para Angola daqui a 150 anos eu tinha que escrever e
colocar o leitor a pensar como se já estivesse nessa época de daqui a 150 anos.
Os personagens e os diálogos entre eles, a relação entre eles, os sistemas da
época, etc., tive que visualizar sistemas, modelos já dessa época. E, para
isso, no domínio tecnológico, interessou-me mais a componente da Física, por
exemplo, para descrever aquilo que prevejo que venha a acontecer, a comunicação
do pensamento por telepatia, a levitação magnética... é algo que está a ser
estudado e que possivelmente acontecerá. E muitas outras coisas que só
estudando os que se ocupam da Física é que nós podemos ter alguma percepção. E
também ver como é que essa Física evolui e qual a sua linha de evolução. Por
extrapolação aplico tudo isso à realidade angolana. E também no domínio da
procriação talvez já não seja mais necessário, daqui a algum tempo, um homem e
uma mulher para fazer um filho. A partir de uma célula pode vir a ser possível
gerar um ser humano. Este romance não é só ficção científica, também tem, se
assim quisermos chamar, ficção social, ficção cultural e ficção antropológica.
O seu romance
parece projectar uma sociedade que reúne ao mesmo tempo as características de
uma utopia e de uma distopia...
Repare
bem. Eu não tenho a ilusão de prever uma sociedade perfeita. O raciocínio do
livro não é no sentido de prever uma sociedade organizada, perfeita. Não. É no
sentido de evoluir mas com os altos e baixos que qualquer sociedade tem. No
passado houve e no futuro também haverá sociedades de conflito, mais ou menos
inclusivas, mais ou menos excludentes. Tenho a perfeita consciência disso e sou
coerente ao fazer essa projecção para daqui a 150 anos. Quando falo, por
exemplo, do modelo político sem partidos, de uma democracia sem partidos, é
olhando para a evolução. Neste momento quem se candidata para o poder são os
partidos. E vemos que cada vez mais o acesso ao poder político é muito mercantilizado,
por causa do sistema de marketing eleitoral que é cada vez mais caro. Os
partidos hoje afirmam-se mais pelo bem sucedido do seu marketing do que pelas
suas convicções e as suas ideologias. Vemos isso nos países mais desenvolvidos.
É quem tem mais dinheiro para suportar um bom marketing político que tem mais
possibilidades de chegar ao poder político. Ora, esse é um modelo que, mais
cedo ou mais tarde, vai se auto-destruir, porque vai se chegar a um ponto em
que as pessoas vão dizer “mas isto é comércio ou é mesmo política? E onde é que
sai o dinheiro para os partidos se sustentarem e sustentarem campanhas com tão
volumosas quantidades de dinheiro”?...
Essas ideias,
que acaba de exprimir, são sustentadas no romance pelo personagem Michael Hossi.
São ideias que o autor também defende? O autor identifica-se em grande medida
com esse personagem?
Na
verdade não é uma questão de estar de acordo ou não com esta visão. É uma
constatação histórica. Nós somos críticos. Intelectualmente estamos no mundo mas
não somos amorfos. Olhamos para os fenómenos e fazemos deles uma leitura e uma
explicação, tentando responder a coisas que aparentemente não combinam bem. E
esse sentido crítico leva a perguntar como é que seria, uma vez que o sistema
de acesso ao poder pelo partido pode eventualmente implodir, qual seria o sucedâneo, o que é que depois disso viria?
Daí este exercício intelectual de antevisão, de especulação política e
sociológia de como é que seria o outro sistema, possivelmente uma sociedade sem
partidos políticos.
Sendo que, pela
estratégia narrativa que adoptou, a história é contada através de um relatório
de especialistas no ano 2170, verifica-se, entretanto, que a linguagem é a do
português vernáculo actual, de 2020. Isso acontece porque a sua projecção,
enquanto autor, é que em 2150 o português vernáculo será ainda este de hoje?
Olha,
essa foi a parte mais difícil e desafiante para mim. Era saber como as pessoas
se comunicarão daqui a 150 anos. Tenho a consciência de que 150 anos atrás
comunicou-se de uma determinada maneira. Felizmente temos registos históricos
de como é que isso foi feito e da evolução que houve. Fazendo essa extrapolação
para daqui a 150 anos necessariamente concluiremos que também haverá uma forma
de comunicação, uma linguagem e até mesmo uma construção gramatical que será
diferente. Aí não consegui ser criativo ao ponto de utilizar uma linguagem
possivelmente da época, de daqui a 150 anos. Não consegui.
Privilegiou
então o lado da comunicação com o leitor de hoje?
Com
o leitor de hoje. Na verdade há coisas que é possível imaginar como é que serão
daqui a 150 anos. Sobretudo na tecnologia é muito fácil fazer a extrapolação.
Mas na linguagem, nas questões sociológicas, antropológicas e culturais é muito
mais arriscado.
Essa
extrapolação seria sempre ficção...
Seria
sempre ficção. Mas uma ficção que exigiria um grau de abstracção de uma forma
muito mais apurada. Eu teria que ter um conhecimento da evolução linguística e
conhecimentos científicos da língua para poder esticar o raciocínio e a
criatividade até ao limite e criar então um modelo de linguagem. Quem sabe num
outro romance eu consiga fazer esse exercício...
Há neste romance
marcas, referências, que apontam para situações deste ano de 2020. Fala-se no
vírus Corona versão 2019, fala-se numa pandemia... O livro foi escrito este
ano?
Não,
já vinha sendo escrito há um ano e meio, dois anos... Mas para dar explicação e
sustentação lógica a alguns acontecimentos foi necessário tomar mão de
realidades actuais. Por exemplo, para que Angola se transforme e tenha
alterações mais ou menos radicais, em alguns casos revolucionárias, de rotura
com o passado, é preciso que aconteça algo que provoque isso. Ora, esse algo
para mim foi a existência de uma guerra global que tem aspectos de guerra
biológica que não são de excluir. Claro que não será uma guerra mundial como a
de 1914/18 com aquela visão clássica de matança, etc., é uma guerra global dos
tempos actuais em que se usa mais a força do domínio económico, do domínio dos
mercados, da religião e dos sentimentos religiosos, etc., etc. Essas armas,
digamos assim, da guerra global hodierna é que utilizei para justificar uma
rotura com o passado. Portanto acontece uma guerra global que proporciona uma
alteração nos sistemas a nível global e sobretudo de Angola. É nesse contexto
que falo do coronavírus como uma possível arma biológica que levou o mundo a
alterações. Ainda é cedo para dizermos quais são os efeitos estruturantes ou
desestruturantes na vida das pessoas e da humanidade por causa do corona, mas
já podemos prever que alterará modelos, sistemas, o que fará com que a vida se
altere profundamente.
Aparentemente
enquanto escritor a sua socialização ocorreu na relação com escritores como
Pepetela, Boaventura Cardoso e Adriano Botelho de Vasconcelos. Considera-se
como pertencendo à geração destes autores? Como é que se situa na linha
geracional da literatura angolana?
O
que procurei no Pepetela, no Adriano Botelho de Vasconcelos e no Boaventura
Cardoso foi sobretudo a experiência literária. Considero que é uma
responsabilidade grande escrever para o público. Não podemos fazer as coisas de
ânimo leve. Aconselhei-me com eles de uma maneira muito aberta. E eles também
tiveram a gentileza de me apoiar, aconselhar e me ensinar mesmo como é que se
faz literatura. São pessoas com quem tenho uma relação de amizade e foi com uma
facilidade grande que se proporcionou o diálogo. Mas identifico-me muito com os
escritores recentes, como o Ondjaki, por exemplo, ou o (Roderick) Nehone, que
apesar de já não ser muito jovem é da nova geração, o Carmo Neto que também é
da nova geração, enfim, identifico-me muito com a literatura jovem, embora
reconheça que temos que trabalhar bastante, sobretudo inculcar hábitos de
leitura na nossa sociedade. Escrever um livro é muito caro, é um prejuízo. Quem
escreve o faz por paixão, mas perde dinheiro. Se o mercado fosse mais
consumidor... Mas não há hábitos de
leitura. Se houvesse a apetência da sociedade em comprar livros talvez houvesse
mais literatura jovem ou de jovens escritores.
Essa questão da
difusão da leitura e do livro passa por medidas de Estado que permitam tornar
mais barato o papel, a produção e o próprio livro, além da criação de muito
mais bibliotecas. Enquanto membro do governo certamente terá uma palavra em
relação a tudo isso...
Os
mecanismos que o governo usa para incentivar esta ou aquela prática que convém
às políticas do goevrno são os instrumentos financeiros. Não necessariamente
dar dinheiro, mas sobretudo isentar impostos, fazer com que pelo não pagamento
do imposto ou então pela redução de impostos aquele que se dedique a esta
actividade escrevendo ou editando ou produzindo o livro materialmente nas
gráficas tenha um custo de produção baixo com um regime fiscal adequado. Creio
que já existe um regime especial. Este é um caminho. E havia também que
incentivar mais à leitura, porque sem um mercado literário de consumo mesmo que
os livros sejam baratos vão ficar nas prateleiras.
O que é que mais
o desafiou na escrita deste livro?
A
escrita deste livro mexeu muito comigo do ponto de vista da criatividade e da
imaginação. Como é que os que viverão daqui a 150 anos olharão para nós? Há uma
parte muito substancial do livro que é dedicada a isso. São os herdeiros do
Kassinda Sekele, seus bisnetos e trisnetos, que farão a sua leitura
retrospectiva tentando descobrir como é que o bisavô ou trisavô chegou onde
chegou e então fazem juízos, avaliações, leituras no meio de umas histórias
muito interessantes porque são baseadas na época actual, sobretudo desde 1992,
quando o regime económico e político se altera e vamos para uma política de
mercado, sendo a partir daí que as pessoas começam a se posicionar para ficarem
ricas. Essa componente de como é que as pessoas em 2170 vão olhar para nós foi
muito desafiante para mim.
O exercício da
escrita literária coloca o indivíduo numa situação de fragilidade, de
vulnerabilidade emocional e até mesmo física. Como é que conciliou e encarou o
contraste entre uma actividade que o vulnerabiliza, em que põe as suas emoções
e os seus sentimentos mais profundos a nu e a outra actividade, a de
governante, em que deve evidenciar autoridade e não ter as emoções à flor da
pele?
É
conciliável desde que a pessoa paute a sua conduta por princípios. Se a pessoa,
que é o meu caso, seguir valores de rectidão, de verticalidade e sobretudo os
valores que eu prezo muito e que aplico desde quando fui ministro da Geologia e
Minas e agora enquanto ministro da Justiça, que são a transparência, a lealdade
e o rigor. A minha vida toda é marcada por esses três princípios. Na
transparência eu não escondo as coisas; e para não esconder esforço-me para não
fazer coisas más. Só se esconde aquilo de que a gente tem vergonha. Se tenho
coisas más na minha vida não posso ser transparente. Procuro levar uma vida que
me permita mostrar o que sou sem receio e sem estar com muitas voltas a
explicar isto ou aquilo. Não tenho receio de ser visto assim e que as pessoas
façam uma radiografia do meu interior pela transparência que eu próprio sigo. E
depois há a lealdade. Eu tenho que ser leal à linha do meu partido, à liderança
do meu líder político que é o Presidente da República, tenho de conhecer o
pensamento dele e tenho que ser leal a isso. Há-de notar que a narrativa apesar
de ter temas delicados e mesmo controversos não foge à lealdade. Pelo contrário
procura fazer com que haja uma visão que está alinhada, embora não sendo aquele
alinhamento canino que estraga tudo.
Em algum momento
enquanto criador se sentiu na necessidade de se auto-censurar, de delimitar o
âmbito da sua criatividade para estar em linha com o pensamento político vigente?
Sim.
Necessariamente eu tenho que ser auto-crítico e tenho que me impor limites,
porque estou inserido numa determinada sociedade, estou inserido politicamente
num determinado contexto e estou inserido também enquanto dirigente político.
Eu tenho que fazer a minha narrativa literária não comprometendo a coerência
com essas inserções, porque senão são duas pessoas e eu não sou duas pessoas.
Sou apenas uma pessoa. Quando o entusiasmo da escrita me leva a uma determinada
direcção tenho de ter a capacidade de auto-crítica e dizer que essa direcção
não é correcta, posso fazer a mesma coisa mas utilizando um método mais de
acordo com o sistema e o pensamento actual.
Na linha de
evolução do sistema democrático, conforme narrado no romance, os partidos
políticos vão acabar por desaparecer. Prega-se uma democracia sem partidos. Não
tem receio que isso venha a ferir susceptibilidades no seio do seu partido?
Não
tenho, porque vejo o lado positivo disso. Temos de ter consciência de que nada
é estático, tudo muda. A própria dinâmica partidária de organização e
funcionamento também evolui. Se há essa evolução temos a obrigação, hoje, de
pensar como é que poderá ser amanhã e prepararmo-nos já. Penso que com esta
especulação acabo por dar um contributo não só ao partido a que eu pertenço mas
aos partidos em geral, para começarem a ver que tudo isso pode vir a
desaparecer. E se desaparecer estamos preparados? Portanto, é um pouco no
sentido construtivo dessa visão que eu falo nisso. E não tenho receio de falar
porque não estou a criticar para destruir um modelo que existe, é apenas para
fazer uma especulação, se quisermos, político-científica de como é que as
coisas evoluirão. E esse tipo de projecção é aconselhável que se faça, não só
nesse domínio mas também noutros. Mesmo na nossa vida pessoal temos a obrigação
de ver se hoje é assim como é que amanhã poderá ser, para não sermos apanhados
desprevenidos e não ficarmos perdidos quando as coisas acontecerem.